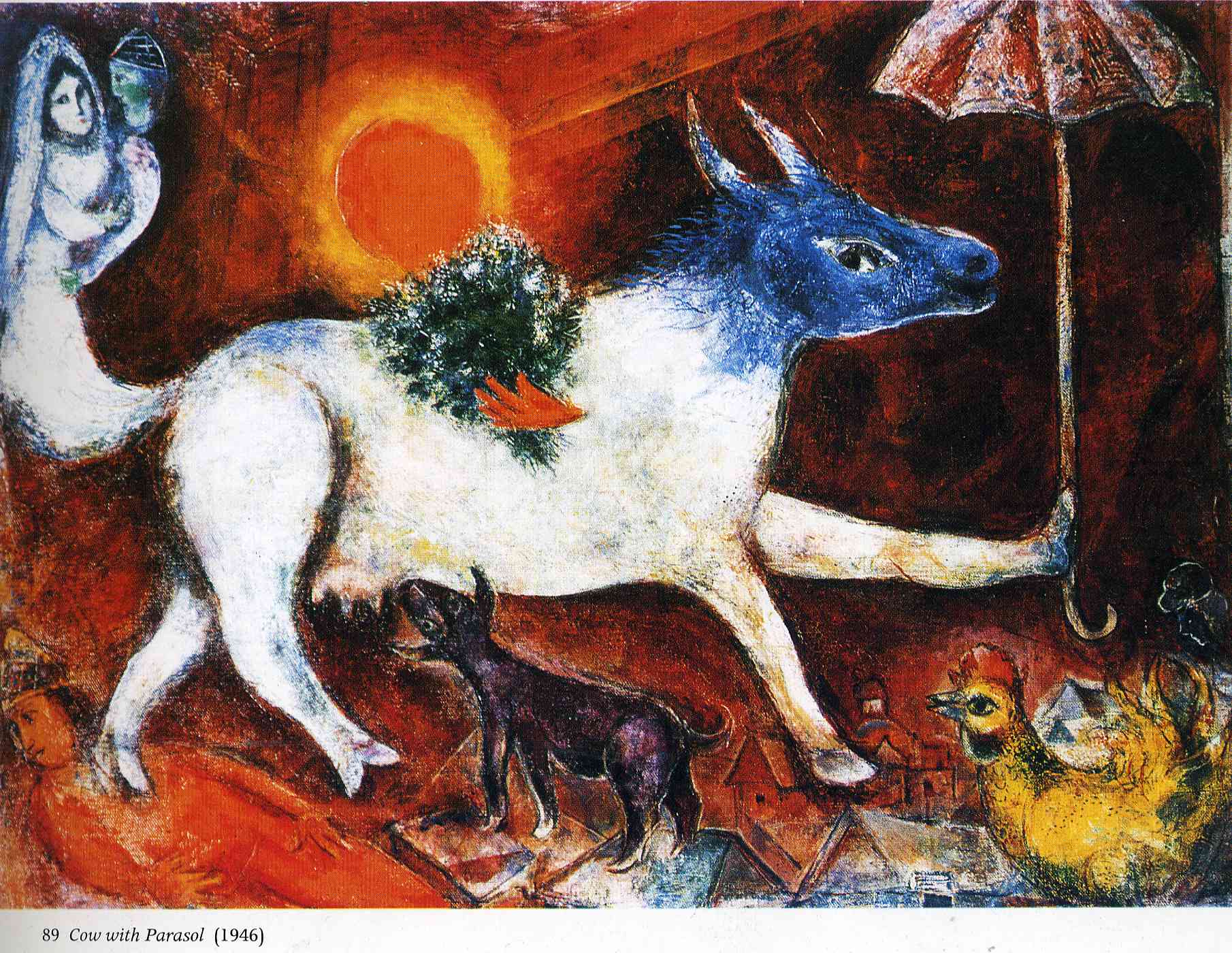Oração de Sapiência na abertura do ano lectivo no ISCTEM
OS SETE SAPATOS SUJOS
Começo pela confissão de um sentimento conflituoso: é um prazer e uma honra ter recebido este convite e estar aqui convosco. Mas, ao mesmo tempo, não sei lidar com este nome pomposo: “oração de sapiência”. De propósito, escolhi um tema sobre o qual tenho apenas algumas, mal contidas, ignorâncias. Todos os dias somos confrontados com o apelo exaltante de combater a pobreza. E todos nós, de modo generoso e patriótico, queremos participar nessa batalha. Existem, no entanto, várias formas de pobreza. E há, entre todas, uma que escapa às estatísticas e aos indicadores numéricos: é a penúria da nossa reflexão sobre nós mesmos. Falo da dificuldade de nós pensarmos como sujeitos históricos, como lugar de partida e como destino de um sonho.
Falarei aqui na minha qualidade de escritor tendo escolhido um terreno que é a nossa interioridade, um território em que somos todos amadores. Neste domínio ninguém tem licenciatura, nem pode ter a ousadia de proferir orações de “sapiência”. O único segredo, a única sabedoria é sermos verdadeiros, não termos medo de partilhar publicamente as nossas fragilidades. É isso que venho fazer, partilhar convosco algumas das minhas dúvidas, das minhas solitárias cogitações.
Começo por um fait-divers. Há agora um anúncio nas nossas estações de rádio em que alguém pergunta à vizinha: diga-me minha senhora, o que é que se passa em sua casa, o seu filho é chefe de turma, as suas filhas casaram muito bem, o seu marido foi nomeado diretor, diga-me, querida vizinha, qual é o segredo? E a senhora responde: é que lá em casa nós comemos arroz marca…(não digo a marca porque não me pagaram este momento publicitário).
Seria bom que assim que fosse, que a nossa vida mudasse só por consumirmos um produto alimentar. Já estou a ver o nosso Magnifico Reitor a distribuir o mágico arroz e a abrirem-se no ISCTEM as portas para o sucesso e para a felicidade. Mas ser- se feliz é, infelizmente, muito mais trabalhoso.
No dia em que eu fiz 11 anos de idade, a 5 de Julho de 1966, o Presidente Kenneth Kaunda veio aos microfones da Rádio de Lusaka para anunciar que um dos grandes pilares da felicidade do seu povo tinha sido construído. Não falava de nenhuma marca de arroz. Ele agradecia ao povo da Zâmbia pelo seu envolvimento na criação da primeira universidade no país. Uns meses antes, Kaunda tinha lançado um apelo para que cada zambiano contribuísse para construir a Universidade. A resposta foi comovente: dezenas de milhares de pessoas corresponderam ao apelo. Camponeses deram milho, pescadores ofertaram pescado, funcionários deram dinheiro. Um país de gente analfabeta juntou-se para criar aquilo que imaginavam ser uma página nova na sua história. A mensagem dos camponeses na inauguração da Universidade dizia: nós demos porque acreditamos que, fazendo isto, os nossos netos deixarão de passar fome.
Quarenta anos depois, os netos dos camponeses zambianos continuam sofrendo de fome. Na realidade, os zambianos vivem hoje pior do que viviam naquela altura. Na década de 60, a Zâmbia beneficiava de um Produto Nacional Bruto comparável aos de Singapura e da Malásia. Hoje, nem de perto nem de longe, se pode comparar o nosso vizinho com aqueles dois países da Ásia.
Algumas nações africanas podem justificar a permanência da miséria porque sofreram guerras. Mas a Zâmbia nunca teve guerra. Alguns países podem argumentar que não possuem recursos. Todavia, a Zâmbia é uma nação com poderosos recursos minerais. De quem é a culpa deste frustrar de expectativas? Quem falhou? Foi a Universidade? Foi a sociedade? Foi o mundo inteiro que falhou? E porque razão Singapura e Malásia progrediram e a Zâmbia regrediu?
Falei da Zâmbia como um país africano ao acaso. Infelizmente, não faltariam outros exemplos. O nosso continente está repleto de casos idênticos, de marchas falhadas, esperanças frustradas. Generalizou-se entre nós a descrença na possibilidade de mudarmos os destinos do nosso continente. Vale a pena perguntarmo-nos: o que está acontecer? O que é preciso mudar dentro e fora de África?
Estas perguntas são sérias. Não podemos iludir as respostas, nem continuar a atirar poeira para ocultar responsabilidades. Não podemos aceitar que elas sejam apenas preocupação dos governos.
Felizmente, estamos vivendo em Moçambique uma situação particular, com diferenças bem sensíveis. Temos que reconhecer e ter orgulho que o nosso percurso foi bem distinto. Acabamos recentemente de presenciar uma dessas diferenças. Desde 1957, apenas seis entre 153 chefes de estado africanos renunciaram voluntariamente ao poder. Joaquim Chissano é o sétimo desses presidentes. Parece um detalhe mas é bem indicativo que o processo moçambicano se guiou por outras lógicas bem diversas.
Contudo, as conquistas da liberdade e da democracia que hoje usufruímos só serão definitivas quando se converterem em cultura de cada um de nós. E esse é ainda um caminho de gerações. Entretanto, pesam sobre Moçambique ameaças que são comuns a todo o continente. A fome, a miséria, as doenças, tudo isso nós partilhamos com o resto de África. Os números são aterradores: 90 milhões de africanos morrerão com SIDA nos próximos 20 anos. Para esse trágico número, Moçambique terá contribuído com cerca de 3 milhões de mortos. A maior parte destes condenados são jovens e representam exatamente a alavanca com que poderíamos remover o peso da miséria. Quer dizer, África não está só perdendo o seu próprio presente: está perdendo o chão onde nasceria um outro amanhã.
Ter futuro custa muito dinheiro. Mas é muito mais caro só ter passado. Antes da Independência, para os camponeses zambianos não havia futuro. Hoje o único tempo que para eles existe é o futuro dos outros.
Os desafios são maiores que esperança? Mas nós não podemos senão ser optimistas e fazer aquilo que os brasileiros chamam de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O pessimismo é um luxo para os ricos.
A pergunta crucial é esta: o que é que nos separa desse futuro que todos queremos? Alguns acreditam que o que falta são mais quadros, mais escolas, mais hospitais. Outros acreditam que precisamos de mais investidores, mais projetos econômicos. Tudo isso é necessário, tudo isso é imprescindível. Mas para mim, há uma outra coisa que é ainda mais importante. Essa coisa tem um nome: é uma nova atitude. Se não mudarmos de atitude não conquistaremos uma condição melhor. Poderemos ter mais técnicos, mais hospitais, mais escolas, mas não seremos construtores de futuro.
Falo de uma nova atitude mas a palavra deve ser pronunciada no plural, pois ela compõe um conjunto vasto de posturas, crenças, conceitos e preconceitos. Há muito que venho defendendo que o maior factor de atraso em Moçambique não se localiza na economia mas na incapacidade de gerarmos um pensamento produtivo, ousado e inovador. Um pensamento que não resulte da repetição de lugares comuns, de fórmulas e de receitas já pensadas pelos outros.
Às vezes me pergunto: de onde vem a dificuldade em nós pensarmos como sujeitos da História? Vem sobretudo de termos legado sempre aos outros o desenho da nossa própria identidade. Primeiro, os africanos foram negados. O seu território era a ausência, o seu tempo estava fora da História. Depois, os africanos foram estudados como um caso clínico. Agora, são ajudados a sobreviver no quintal da História.
Estamos todos nós estreando um combate interno para domesticar os nosso antigos fantasmas. Não podemos entrar na modernidade com o atual fardo de preconceitos. À porta da modernidade precisamos de nos descalçar. Eu contei sete sapatos sujos que necessitamos deixar na soleira da porta dos tempos novos. Haverá muitos. Mas eu tinah que escolher e sete é um número mágico.
O primeiro sapato: a ideia que os culpados são sempre os outros e nós somos sempre vítimas
Nós já conhecemos este discurso. A culpa já foi da guerra, do colonialismo, do imperialismo, do apartheid, enfim, de tudo e de todos. Menos nossa. É verdade que os outros tiveram a sua dose de culpa no nosso sofrimento. Mas parte da responsabilidade sempre morou dentro de casa.
Estamos sendo vítimas de um longo processo de desresponsabilização. Esta lavagem de mãos tem sido estimulada por algumas elites africanas que querem permanecer na impunidade. Os culpados estão à partida encontrados: são os outros, os da outra etnia, os da outra raça, os da outra geografia.
Há um tempo atrás fui sacudido por um livro intitulado Capitalist Nigger: The Road to Success de um nigeriano chamado Chika A. Onyeani. Reproduzi num jornal nosso um texto desse economista que é um apelo veemente para que os africanos renovem o olhar que mantém sobre si mesmos. Permitam-me que leia aqui um excerto dessa carta.
Caros irmãos: Estou completamente cansado de pessoas que só pensam numa coisa: queixar-se e lamentar-se num ritual em que nos fabricamos mentalmente como vítimas. Choramos e lamentamos, lamentamos e choramos. Queixamo-nos até à náusea sobre o que os outros nos fizeram e continuam a fazer. E pensamos que o mundo nos deve qualquer coisa. Lamento dizer-vos que isto não passa de uma ilusão. Ninguém nos deve nada. Ninguém está disposto a abdicar daquilo que tem, com a justificação que nós também queremos o mesmo. Se quisermos algo temos que o saber conquistar. Não podemos continuar a mendigar, meus irmãos e minhas irmãs.
40 anos depois da Independência continuamos a culpar os patrões coloniais por tudo o que acontece na África dos nossos dias. Os nossos dirigentes nem sempre são suficientemente honestos para aceitar a sua responsabilidade na pobreza dos nossos povos. Acusamos os europeus de roubar e pilhar os recursos naturais de África. Mas eu pergunto-vos: digam-me, quem está a convidar os europeus para assim procederem, não somos nós? (fim da citação)
Queremos que outros nos olhem com dignidade e sem paternalismo. Mas ao mesmo tempo continuamos olhando para nós mesmos com benevolência complacente: Somos peritos na criação do discurso desculpabilizante. E dizemos:
- Que alguém rouba porque, coitado, é pobre (esquecendo que há milhares de outros pobres que não roubam)
- Que o funcionário ou o polícia são corruptos porque, coitados, tem um salário insuficiente (esquecendo que ninguém, neste mundo, tem salário suficiente)
- Que o político abusou do poder porque, coitado, na tal África profunda, essas praticas são antropologicamente legitimas
A desresponsabilização é um dos estigmas mais graves que pesa sobre nós, africanos de Norte a Sul. Há os que dizem que se trata de uma herança da escravatura, desse tempo em que não se era dono de si mesmo. O patrão, muitas vezes longínquo e invisível, era responsável pelo nosso destino. Ou pela ausência de destino.
Hoje, nem sequer simbolicamente, matamos o antigo patrão. Uma das formas de tratamento que mais rapidamente emergiu de há uns dez anos para cá foi a palavra “patrão”. Foi como se nunca tivesse realmente morrido, como se espreitasse uma oportunidade histórica para se relançar no nosso quotidiano. Pode-se culpar alguém desse ressurgimento? Não. Mas nós estamos criando uma sociedade que produz desigualdades e que reproduz relações de poder que acreditávamos estarem já enterradas.
Segundo sapato: a ideia de que o sucesso não nasce do trabalho
Ainda hoje despertei com a notícia que refere que um presidente africano vai mandar exorcizar o seu palácio de 300 quartos porque ele escuta ruídos “estranhos” durante a noite. O palácio é tão desproporcionado para a riqueza do país que demorou 20 anos a ser terminado. As insônias do presidente poderão nascer não de maus espíritos mas de uma certa má consciência.
O episódio apenas ilustra o modo como, de uma forma dominante, ainda explicamos os fenômenos positivos e negativos. O que explica a desgraça mora junto do que justifica a bem-aventurança. A equipe desportiva ganha, a obra de arte é premiada, a empresa tem lucros, o funcionário foi promovido? Tudo isso se deve a quê? A primeira resposta, meus amigos, todos a conhecemos. O sucesso deve-se à boa sorte. E a palavra “boa sorte” quer dizer duas coisas: a proteção dos antepassados mortos e proteção dos padrinhos vivos.
Nunca ou quase nunca se vê o êxito como resultado do esforço, do trabalho como um investimento a longo prazo. As causas do que nos sucede (de bom ou mau) são atribuídas a forças invisíveis que comandam o destino. Para alguns esta visão causal é tida como tão intrinsecamente “africana” que perderíamos “identidade” se dela abdicássemos. Os debates sobre as “autenticas” identidades são sempre escorregadios. Vale a pena debatermos, sim, se não poderemos reforçar uma visão mais produtiva e que aponte para uma atitude mais activa e interventiva sobre o curso da História.
Infelizmente olhamo-nos mais como consumidores do que produtores. A ideia de que África pode produzir arte, ciência e pensamento é estranha mesmo para muitos africanos. Ate aqui o continente produziu recursos naturais e força laboral.
Produziu futebolistas, dançarinos, escultores. Tudo isso se aceita, tudo isso reside no domínio daquilo eu se entende como natureza”. Mas já poucos aceitarão que os africanos possam ser produtores de ideias, de ética e de modernidade. Não é preciso que os outros desacreditem. Nós próprios nos encarregamos dessa descrença.
O ditado diz. “o cabrito come onde está amarrado”. Todos conhecemos o lamentável uso deste aforismo e como ele fundamenta a ação de gente que tira partido das situações e dos lugares. Já é triste que nos equiparemos a um cabrito. Mas também é sintomático que, nestes provérbios de conveniência nunca nos identificamos como os animais produtores, como é por exemplo a formiga. Imaginemos que o ditado muda e passar a ser assim: “Cabrito produz onde está amarrado.” Eu aposto que, nesse caso, ninguém mais queria ser cabrito.
Terceiro sapato- O preconceito de quem critica é um inimigo
Muitas acreditam que, com o fim do monopartidarismo, terminaria a intolerância para com os que pensavam diferente. Mas a intolerância não é apenas fruto de regimes. É fruto de culturas, é o resultado da História. Herdamos da sociedade rural uma noção de lealdade que é demasiado paroquial. Esse desencorajar do espírito crítico é ainda mais grave quando se trata da juventude. O universo rural é fundado na autoridade da idade. Aquele que é jovem, aquele que não casou nem teve filhos, esse não tem direitos, não tem voz nem visibilidade. A mesma marginalização pesa sobre a mulher.
Toda essa herança não ajuda a que se crie uma cultura de discussão frontal e aberta. Muito do debate de ideias é, assim, substituído pela agressão pessoal. Basta diabolizar quem pensa de modo diverso. Existe uma variedade de demônios à disposição: uma cor política, uma cor de alma, uma cor de pele, uma origem social ou religiosa diversa.
Há neste domínio um componente histórico recente que devemos considerar: Moçambique nasceu da luta de guerrilha. Essa herança deu-nos um sentido épico da história e um profundo orgulho no modo como a independência foi conquistada. Mas a luta armada de libertação nacional também cedeu, por inércia, a ideia de que o povo era uma espécie de exército e podia ser comandado por via de disciplina militar. Nos anos pós-independência, todos éramos militantes, todos tínhamos uma só causa, a nossa alma inteira vergava-se em continência na presença dos chefes. E havia tantos chefes. Essa herança não ajudou a que nascesse uma capacidade de insubordinação positiva.
Faço-vos agora uma confidência. No início da década de 80 fiz parte de um grupo de escritores e músicos a quem foi dada a incumbência de produzir um novo Hino Nacional e um novo Hino para o Partido Frelimo. A forma como recebemos a tarefa era indicadora dessa disciplina: recebemos a missão, fomos requisitados aos nossos serviços, e a mando do Presidente Samora Machel fomos fechados numa residência na Matola, tendo-nos sido dito: só saem daí quando tiverem feito os hinos. Esta relação entre o poder e os artistas só é pensável num dado quadro histórico. O que é certo é que nós aceitamos com dignidade essa incumbência, essa tarefa surgia como uma honra e um dever patriótico. E realmente lá nos comportamos mais ou menos bem. Era um momento de grandes dificuldades …e as tentações eram muitas. Nessa residência na Matola havia comida, empregados, piscina… num momento em que tudo isso faltava na cidade. Nos primeiros dias, confesso nós estávamos fascinados com tanta mordomia e ficávamos preguiçando e só corríamos para o piano quando ouvíamos as sirenes dos chefes que chegavam. Esse sentimento de desobediência adolescente era o nosso modo de exercermos uma pequena vingança contra essa disciplina de regimento.
Na letra de um dos hinos lá estava reflectida essa tendência militarizada, essa aproximação metafórica a que já fiz referência:
Somos soldados do povo
Marchando em frente
Tudo isto tem que ser olhado no seu contexto sem ressentimento. Afinal, foi assim, que nasceu a Pátria Amada, este hino que nos canta como um só povo, unido por um sonho comum.
Quarto sapato: a ideia que mudar as palavras muda a realidade
Uma vez em Nova Iorque um compatriota nosso fazia uma exposição sobre a situação da nossa economia e, a certo momento, falou de mercado negro. Foi o fim do mundo. Vozes indignadas de protesto se ergueram e o meu pobre amigo teve que interromper sem entender bem o que se estava a passar. No dia seguinte recebíamos uma espécie de pequeno dicionário dos termos politicamente incorrectos. Estavam banidos da língua termos como cego, surdo, gordo, magro, etc…
Nós fomos a reboque destas preocupações de ordem cosmética. Estamos reproduzindo um discurso que privilegia o superficial e que sugere que, mudando a cobertura, o bolo passa a ser comestível. Hoje assistimos, por exemplo, a hesitações sobre se devemos dizer “negro” ou “preto”. Como se o problema estivesse nas palavras, em si mesmas. O curioso é que, enquanto nos entretemos com essa escolha, vamos mantendo designações que são realmente pejorativas como as de mulato e de monhé.
Há toda uma geração que está aprendendo uma língua – a língua dos workshops. É uma língua simples uma espécie de crioulo a meio caminho entre o inglês e o português. Na realidade, não é uma língua mas um vocabulário de pacotilha. Basta saber agitar umas tantas palavras da moda para falarmos como os outros isto é, para não dizermos nada. Recomendo-vos fortemente uns tantos termos como, por exemplo:
– desenvolvimento sustentável
– awarenesses ou accountability
– boa governação
– parcerias sejam elas inteligentes ou não
– comunidades locais
Estes ingredientes devem ser usados de preferência num formato “powerpoint. Outro segredo para fazer boa figura nos workshops é fazer uso de umas tantas siglas. Porque um workshopista de categoria domina esses códigos. Cito aqui uma possível frase de um possível relatório: Os ODMS do PNUD equiparam-se ao NEPAD da UA e ao PARPA do GOM. Para bom entendedor meia sigla basta.
Sou de um tempo em que o que éramos era medido pelo que fazíamos. Hoje o que somos é medido pelo espectáculo que fazemos de nós mesmos, pelo modo como nos colocamos na montra. O CV, o cartão de visitas cheio de requintes e títulos, a bibliografia de publicações que quase ninguém leu, tudo isso parece sugerir uma coisa: a aparência passou a valer mais do que a capacidade para fazermos coisas.
Muitas das instituições que deviam produzir ideias estão hoje produzindo papéis, atafulhando prateleiras de relatórios condenados a serem arquivo morto. Em lugar de soluções encontram-se problemas. Em lugar de acções sugerem-se novos estudos.
Quinto sapato A vergonha de ser pobre e o culto das aparências
A pressa em mostrar que não se é pobre é, em si mesma, um atestado de pobreza. A nossa pobreza não pode ser motivo de ocultação. Quem deve sentir vergonha não é o pobre mas quem cria pobreza.
Vivemos hoje uma atabalhoada preocupação em exibirmos falsos sinais de riqueza. Criou-se a ideia que o estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais pobres.
Recordo-me que certa vez entendi comprar uma viatura em Maputo. Quando o vendedor reparou no carro que eu tinha escolhido quase lhe deu um ataque. “Mas esse, senhor Mia, o senhor necessita de uma viatura compatível”. O termo é curioso: “compatível”.
Estamos vivendo num palco de teatro e de representações: uma viatura já é não um objecto funcional. É um passaporte para um estatuto de importância, uma fonte de vaidades. O carro converteu-se num motivo de idolatria, numa espécie de santuário, numa verdadeira obsessão promocional.
Esta doença, esta religião que se podia chamar viaturolatria atacou desde o dirigente do Estado ao menino da rua. Um miúdo que não sabe ler é capaz de conhecer a marca e os detalhes todos dos modelos de viaturas. É triste que o horizonte de ambições seja tão vazio e se reduza ao brilho de uma marca de automóvel.
É urgente que as nossas escolas exaltem a humildade e a simplicidade como valores positivos.
A arrogância e o exibicionismo não são, como se pretende, emanações de alguma essência da cultura africana do poder. São emanações de quem toma a embalagem pelo conteúdo.
Sexto Sapato A passividade perante a injustiça
Estarmos dispostos a denunciar injustiças quando são cometidas contra a nossa pessoa, o nosso grupo, a nossa etnia, a nossa religião. Estamos menos dispostos quando a injustiça é praticada contra os outros. Persistem em Moçambique zonas silenciosas de injustiça, áreas onde o crime permanece invisível. Refiro-me em particular à:
– violência domestica (40 por cento dos crimes resultam de agressão domestica contra mulheres, esse é um crime invisível)
– violência contra as viúvas
– à forma aviltante como são tratados muitos dos trabalhadores
– aos maus tratos infligidos às crianças
Ainda há dias ficamos escandalizados com o recente anúncio que privilegiava candidatos de raça branca. Tomaram-se medidas imediatas e isso foi absolutamente correcto. Contudo, existem convites à discriminação que são tão ou mais graves e que aceitamos como sendo naturais e inquestionáveis.
Tomemos esse anúncio do jornal e imaginemos que ele tinha sido redigido de forma correcta e não racial. Será que tudo estava bem? Eu não sei se todos estão a par de qual é a tiragem do jornal Notícias. São 13 mil exemplares. Mesmo se aceitarmos que cada jornal é lido por 5 pessoas, temos que o numero de leitores é menor que a população de um bairro de Maputo. É dentro deste universo que circulam convites e os acessos a oportunidades. Falei na tiragem mas deixei de lado o problema da circulação. Por que geografia restrita circulam as mensagens dos nossos jornais? Quanto de Moçambique é deixado de fora ?
É verdade que esta discriminação não é comparável à do anúncio racista porque não é não resultado de acção explícita e consciente. Mas os efeitos de discriminação e exclusão destas práticas sociais devem ser pensados e não podem cair no saco da normalidade. Esse “bairro” das 60 000 pessoas é hoje uma nação dentro da nação, uma nação que chega primeiro, que troca entre si favores, que vive em português e dorme na almofada na escrita.
Um outro exemplo. Estamos administrando anti-retro-virais a cerca de 30 mil doentes com SIDA. Esse número poderá, nos próximos anos, chegar aos 50 000. Isso significa que cerca de um milhão quatrocentos e cinquenta mil doentes ficam excluídos de tratamento. Trata-se de uma decisão com implicações éticas terríveis. Como e quem decide quem fica de fora? É aceitável, pergunto, que a vida de um milhão e meio de cidadãos esteja nas mãos de um pequeno grupo técnico?
Sétimo sapato – A ideia de que para sermos modernos temos que imitar os outros
Todos os dias recebemos estranhas visitas em nossa casa. Entram por uma caixa mágica chamada televisão. Criam uma relação de virtual familiaridade. Aos poucos passamos a ser nós quem acredita estar vivendo fora, dançando nos braços de JanetJackson. O que os vídeos e toda a sub-indústria televisiva nos vem dizer não é apenas “comprem”. Há todo um outro convite que é este: “sejam como nós”. Este apelo à imitação cai como ouro sobre azul: a vergonha em sermos quem somos é um trampolim para vestirmos esta outra máscara.
O resultado é que a produção cultural nossa se está convertendo na reprodução macaqueada da cultura dos outros. O futuro da nossa música poderá ser uma espécie de hip-hop tropical, o destino da nossa culinária poderá ser o Mac Donald’s.
Falamos da erosão dos solos, da deflorestação, mas a erosão das nossas culturas é ainda mais preocupante. A secundarização das línguas moçambicanas (incluindo da língua portuguesa) e a ideia que só temos identidade naquilo que é folclórico são modos de nos soprarem ao ouvido a seguinte mensagem: só somos modernos se formos americanos.
O nosso corpo social tem a uma história similar a de um indivíduo. Somos marcados por rituais de transição: o nascimento, o casamento, o fim da adolescência, o fim da vida.
Eu olho a nossa sociedade urbana e pergunto-me: será que queremos realmente ser diferentes ? Porque eu vejo que esses rituais de passagem se reproduzem como fotocópia fiel daquilo que eu sempre conheci na sociedade colonial. Estamos dançando a valsa, com vestidos compridos, num baile de finalistas que é decalcado daquele do meu tempo. Estamos copiando as cerimónias de final do curso a partir de modelos europeus de Inglaterra medieval. Casamo-nos de véus e grinaldas e atiramos para longe da Julius Nyerere tudo aquilo que possa sugerir uma cerimónia mais enraizada na terra e na tradição moçambicanas.
Falei da carga de que nos devemos desembaraçar para entrarmos a corpo inteiro na modernidade. Mas a modernidade não é uma porta apenas feita pelos outros. Nós somos também carpinteiros dessa construção e só nos interessa entrar numa modernidade de que sejamos também construtores.
A minha mensagem é simples: mais do que uma geração tecnicamente capaz, nós necessitamos de uma geração capaz de questionar a técnica. Uma juventude capaz de repensar o país e o mundo. Mais do que gente preparada para dar respostas, necessitamos de capacidade para fazer perguntas. Moçambique não precisa apenas de caminhar. Necessita de descobrir o seu próprio caminho num tempo enevoado e num mundo sem rumo. A bússola dos outros não serve, o mapa dos outros não ajuda. Necessitamos de inventar os nossos próprios pontos cardeais. Interessa-nos um passado que não esteja carregado de preconceitos, interessa-nos um futuro que não nos venha desenhado como um receita financeira.
A Universidade deve ser um centro de debate, uma fábrica de cidadania activa, uma forja de inquietações solidárias e de rebeldia construtiva. Não podemos treinar jovens profissionais de sucesso num oceano de miséria. A Universidade não pode aceitar ser reprodutor da injustiça e da desigualdade. Estamos lidando com jovens e com aquilo que deve ser um pensamento jovem, fértil e produtivo. Esse pensamento não se encomenda, não nasce sozinho. Nasce do debate, da pesquisa inovadora, da informação aberta e atenta ao que de melhor está surgindo em África e no mundo.
A questão é esta: fala-se muito dos jovens. Fala-se pouco com os jovens. Ou melhor, fala-se com eles quando se convertem num problema. A juventude vive essa condição ambígua, dançando entre a visão romantizada (ela é a seiva da Nação) e uma condição maligna, um ninho de riscos e preocupações (a SIDA, a droga, o desemprego).
Não foi apenas a Zâmbia a ver na educação aquilo que o naufrago vê num barco salva-vidas. Nós também depositamos os nossos sonhos nessa conta.
Numa sessão pública decorrida no ano passado em Maputo um já idoso nacionalista disse, com verdade e com coragem, o que já muitos sabíamos. Ele confessou que ele mesmo e muitos dos que, nos anos 60, fugiam para a FRELIMO não eram apenas motivados por dedicação a uma causa independentista. Eles arriscaram-se e saltaram a fronteira do medo para terem possibilidade de estudar. O fascínio pela educação como um passaporte para uma vida melhor estava presente um universo em que quase ninguém podia estudar. Essa restrição era comum a toda a África. Até 1940 o número de africanos que frequentavam escolas secundárias não chegava a 11 000. Hoje, a situação melhorou e esse número foi multiplicado milhares e milhares de vezes. O continente investiu na criação de novas capacidades. E esse investimento produziu, sem dúvida, resultados importantes.
Aos poucos se torna claro, porém, que mais quadros técnicos não resolvem, só por si, a miséria de uma nação. Se um país não possuir estratégias viradas para a produção de soluções profundas então todo esse investimento não produzirá a desejada diferença. Se as capacidades de uma nação estiverem viradas para o enriquecimento rápido de uma pequena elite então de pouco valerá termos mais quadros técnicos.
A escola é um meio para querermos o que não temos. A vida, depois, nos ensina a termos aquilo que não queremos. Entre a escola e a vida resta-nos ser verdadeiros e confessar aos mais jovens que nós também não sabemos e que, nós, professores e pais, também estamos à procura de respostas.
Com o novo governo ressurgiu o combate pela auto-estima. Isso é correcto e é oportuno. Temos que gostar de nós mesmos, temos que acreditar nas nossas capacidades. Mas esse apelo ao amor-próprio não pode ser fundado numa vaidade vazia, numa espécie de narcisismo fútil e sem fundamento. Alguns acreditam que vamos resgatar esse orgulho na visitação do passado. É verdade que é preciso sentir que temos raízes e que essas raízes nos honram. Mas a auto-estima não pode ser construída apenas de materiais do passado.
Na realidade, só existe um modo de nos valorizar: é pelo trabalho, pela obra que formos capazes de fazer. É preciso que saibamos aceitar esta condição sem complexos e sem vergonha: somos pobres. Ou melhor, fomos empobrecidos pela História. Mas nós fizemos parte dessa História, fomos também empobrecidos por nós próprios. A razão dos nossos actuais e futuros fracassos mora também dentro de nós.
Mas a força de superarmos a nossa condição histórica também reside dentro de nós. Saberemos como já soubemos antes conquistar certezas que somos produtores do nosso destino. Teremos mais e mais orgulho em sermos quem somos: moçambicanos construtores de um tempo e de um lugar onde nascemos todos os dias. É por isso que vale a pena aceitarmos descalçar não só os setes mas todos os sapatos que atrasam a nossa marcha colectiva. Porque a verdade é uma: antes vale andar descalço do que tropeçar com os sapatos dos outros.
Fonte: Macua

Você achou esse conteúdo relevante? Compartilhe!






















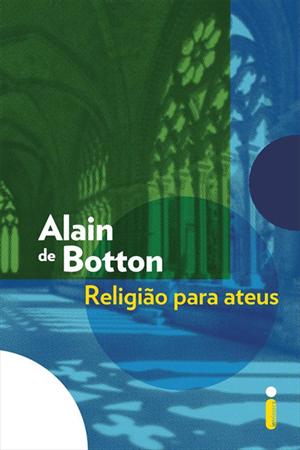 na equivocada crença de que são indelevelmente cristãs. A nova fé incorporou as celebrações de inverno, do hemisfério norte, e as repaginou como o Natal. Absorveu o ideal epicurista de viver junto numa comunidade filosófica e o transformou no que hoje conhecemos como monasticismo. E, nas arruinadas cidades do antigo Império Romano, inseriu-se alegremente nos espaços vazios de templos outrora devotados a heróis e temas pagãos.
na equivocada crença de que são indelevelmente cristãs. A nova fé incorporou as celebrações de inverno, do hemisfério norte, e as repaginou como o Natal. Absorveu o ideal epicurista de viver junto numa comunidade filosófica e o transformou no que hoje conhecemos como monasticismo. E, nas arruinadas cidades do antigo Império Romano, inseriu-se alegremente nos espaços vazios de templos outrora devotados a heróis e temas pagãos.