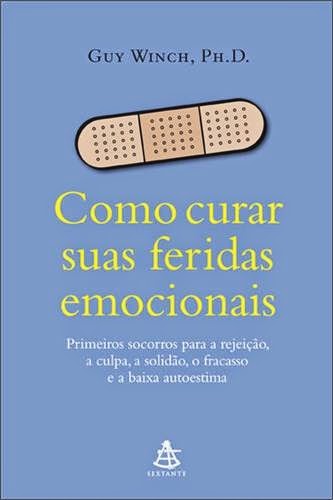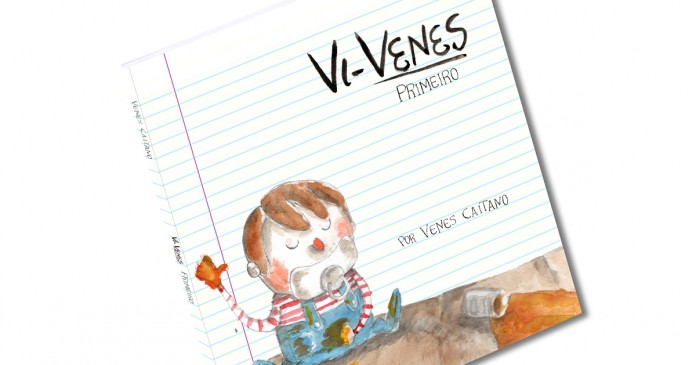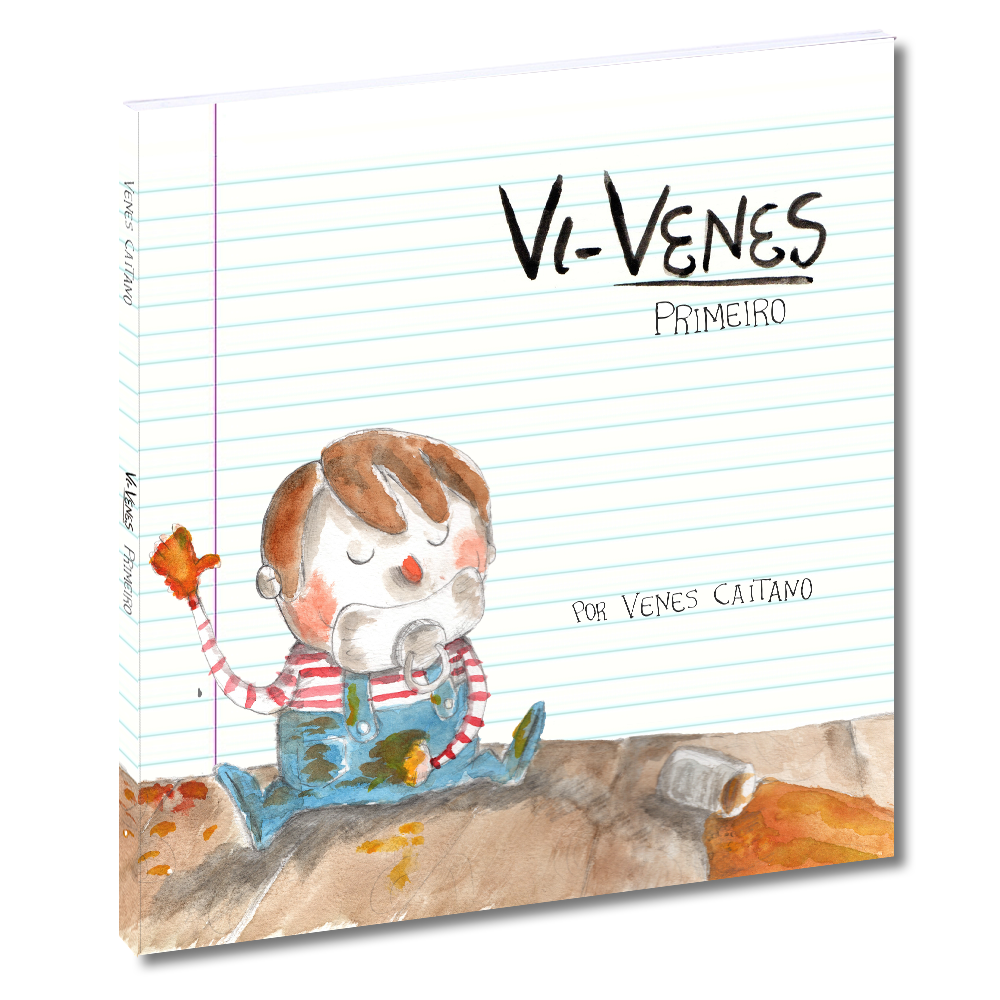O livro que era uma casa. A casa que era um país
Por Mia Couto
Todos os povos amam a Paz. Os que passaram por uma guerra sabem que não existe valor mais precioso. Sabem que a Paz é um outro nome da própria Vida. Vivemos desde há meses sob a permanente ameaça do regresso à guerra. Os que assim ameaçam devem saber que aquele que está a ser ameaçado não é apenas um governo. O ameaçado é todo um povo, toda uma nação.
Pode não ser este o momento, pode não ser este o lugar. Mas é preciso que os donos das armas escutem o seguinte: não nos usem, a nós, cidadãos de Paz, como um meio de troca. Não nos usem como carne para canhão. Diz o provérbio que “sob os pés dos elefantes quem sofre é o capim”. Mas nós não somos capim. Merecemos todo o respeito, merecemos viver sem medo. Quem quiser fazer política que faça política. Mas não aponte uma arma contra o futuro dos nossos filhos. É isto que queria dizer, antes de dizer qualquer outra coisa.
Que me seja perdoado este empolgado introito. Que me seja perdoada a falta de etiqueta que deveria começar por saudar a presença do Presidente da República, o Presidente Jacinto Filipe Nyussi. Na verdade, Excelentíssimo Presidente, talvez eu tenha adiado esse momento porque um escritor não deveria nunca declarar-se sem palavras. Na verdade, sabendo da sua intensa e preciosa ocupação, eu não encontro palavras para lhe agradecer a honra da sua presença.
O que quero dizer é saudar o seu apelo para repensarmos o modo como nos concebemos como povo e como nação. Queremos ser parte desse esforço, queremos aprender a ser um país que não exclui, um país plural e diverso. Queremos ajudar a construir uma nação que assume, sem medo, as suas diferenças. Esta nova atitude pode ser a cura para uma espécie de autismo de que vínhamos padecendo. Quero saudar a presença do Presidente Joaquim Chissano, é um prazer imenso revê-lo.
É difícil imaginar quanto, mesmo ouvindo, podemos ser surdos. Seletivamente surdos. Escutamos os que nos são próximos, escutamos os que nos obedecem, escutamos o que nos agrada ouvir. Escutamos os do nosso partido, escutamos sobretudo quem não nos critica. Tudo o resto não existe, tudo o resto é mentira, tudo o resto é calúnia. Tudo o resto é proferido pelos “outros”. E é quase um paradoxo: porque se ocupam páginas inteiras dos jornais a dizer que os “Outros” não devem ser ouvidos. Gastam-se horas de programação radiofónica e televisiva para dizer que os outros não disseram nada. Esses “outros” que querem questionar o que fazemos, esses outros são “estranhos”, a caminho mesmo de serem “estrangeiros”. A verdade, porém, é que ninguém pode anular a existência desses “outros”. Ninguém pode negar que são moçambicanos. Ninguém pode saber se têm razão se não deixarmos que falem livremente. Esta é a grande lição do Presidente Nyussi que entendeu reconciliar uma nação apartada de si mesma. É ele que nos lembra que esses que dizem “não”, são da mesma família dos que dizem “sim”. Esta é uma mesma família que dispõe de uma única casa. Não existe outro lugar, não existe outro destino senão este que dá pelo nome de Moçambique.
Digo tudo isto sem qualquer embaraço. Porque todos nós, a começar por si, Senhor Presidente, queremos fugir da pratica da bajulação. Com a sua atitude de abertura e simplicidade, o Presidente sugere uma outra relação, mais próxima, mais verdadeira. Apesar de tudo, é fácil imaginar que junto a Vossa Excelência já se criou um cortejo de aduladores. Felizmente, veio da sua parte um sinal de alerta: assim que tomou posse, o Presidente Filipe Nyussi começou a receber gente que não batia palmas, gente que tinha interrogações e levantava críticas. Os seus ministros estão a fazer o mesmo, estão a escutar os que pensam diferente, estão a sentar-se com os que deixaram de ser ministros, estão a aprender desses outros que estavam condenados à condição de já terem sido alguém. Parece pouco perante os gigantescos problemas que enfrentamos. Mas esta forma de lidar com as pessoas pode sugerir uma outra forma de lidar com os grandes os desafios.
Por tudo isto queria muito dizer-lhe: muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado por nos ter devolvido a nossa dimensão de família. Muito obrigado por ter reabilitado o nosso estatuto de moradores na mesma casa. Durante muito tempo fomos conduzidos a construir fronteiras que nos separavam em pequenas nações dentro da grande Nação moçambicana. Durante muito tempo houve quem sugerisse que havia categorias de moçambicanos, uns mais autênticos que os outros. Ainda hoje sobrevive em alguns esse olhar de polícia de identidades. Ainda hoje há quem avalie os outros pela cor da sua pele, pela cor da tribo, pela cor do seu partido. Ainda hoje, há os que, em lugar de discutir ideias, atacam pessoas. E ainda prevalecem os que, em lugar de procurar soluções, procuram modos de esconder os problemas. Toda esta cosmética foi sendo feita em nome da unidade e do patriotismo. Toda esta encenação de normalidade é uma herança que pedia uma resposta firme. Esta resposta foi trazida por si. Sem grandes proclamações, mas de um modo firme e continuado. Conhecemos hoje essa sua mensagem: podemos ter os recursos que tivermos. Não disso é tão promissor como o nosso património humano feito de tanta gente tão diversa.
O Presidente está a criar uma dinâmica que é bem mais do que uma nova política. É uma nova cultura. E esta cultura pode marcar uma diferença em toda história de Moçambique. Parabéns por quanto já acendeu como esperança, parabéns pelo seu modo paciente, sem recurso ao autoritarismo, sem uso da demagogia fácil. Parabéns pelo caminho iniciado para devolver à política a sua dimensão ética e humana.
Magnífico Reitor, Professor Doutor Lourenço do Rosário
Dizem que os escritores são donos das palavras. Não são. As palavras, felizmente, não tem dono. Às vezes, sinto pena que assim seja. Porque se tivesse esse poder eu o aliviaria das formas de tratamento que são bem mais pesadas que estas minhas novas vestimentas.
Na verdade, o Professor Doutor Lourenço do Rosário não precisa do lustro de um título seja ele qual for. Lourenço do Rosário conquistou um lugar de respeito não apenas na academia mas na sociedade moçambicana como um homem empenhado com a sua gente e com a sua pátria. E essa autoridade moral que vem exercendo na sua função de mediador das conversações no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Sabemos como é difícil encontrar, entre nós, personagens capazes de reunir tão amplo consenso. Somos uma nação que foi convidada a assumir-se em dualidades extremas. Os que defendem a lucidez da isenção foram sempre olhados com desconfiança.
As suas recentes palavras são um alerta para quem se esquece que o país não pertence a nenhum partido. Eu vou reproduzir essas suas palavras com o risco de o estar a citar por via dos jornais (e os jornais são mais criativos do que qualquer escritor). O Professor terá dito: “No fundo, o partido da oposição está a revelar a sua pretensão em cumprir aquilo que a gíria popular chama de “chegou a nossa vez”.
Traduzindo as suas palavras na linguagem da oralidade que Professor Rosário tão bem conhece o resultado poderia ser assim: é que para uns, a política é uma panela. É preciso comer muito e rápido porque a colher é muito disputada e a refeição pode durar pouco. Para outros, contudo, a política ainda é a nobre arte de servir os outros, a política ainda é a missão de colocar acima de tudo os interesses de todos. Possivelmente quem tanto reclama contra a partidarização não está contra o princípio em si mesmo. Quer, sim, partidarizar a dois. Não me importa o nome dos partidos. A minha questão não é tanto de ordem política que, para isso, pouca vocação me resta. É uma objecção de natureza moral. Importa-me como cidadão que persista, em alguns dirigentes moçambicanos, a ideia de que Moçambique é um quintal privado. Um quintal cujo destino é ser parcelado, conforme interesses e conveniências.
Permita-me Senhor Reitor que, apesar da solenidade deste acto, o trate pelo qualificativo mais honroso que conheço que é o de “professor”. Não existe outro título que a mim mais me honre. Durante anos, dei aulas em diferentes faculdades em Maputo. Ainda hoje, passados quase dez anos, esses meus alunos passam por mim e tratam-me por professor. Não podem imaginar o quanto isso me comove e quanto receio não ter tamanho para encher aquela palavra. Professor não é quem dá aulas. É quem dá lições. Não é aquele que vai à escola ensinar. É aquele cuja vida é uma escola.
Pois o nosso Professor Lourenço do Rosário chamou-me há uns meses para me comunicar que a Universidade Politécnica me tinha escolhido para receber este grau académico. Ele confessou que receava que eu não aceitasse esta distinção. Não sou uma pessoa de títulos, nem de honrarias. Mas não fui capaz de dizer que não. Por causa da pessoa que me falava, por causa da instituição que ele representava. Ainda tive coragem de lhe perguntar: mas a cerimónia vai ser com protocolos de fardas, discursos e chapéus? E ele respondeu laconicamente: vai ter que ser. E aquele “vai ter que ser” não deixava espaço para negociação.
Demorei meses a me habituar à ideia desta tão solene solenidade. Quando pensava que já me tinha conciliado com o fantasma das vestimentas, aconteceu um pequeno e infeliz incidente. É que tive a triste ideia de mostrar aos meus netos fotografias de uma outra cerimónias de doutoramento. E um deles, entusiasmado, perguntou: mas, avô, vais ter que vestir estas saias compridas? Pois eu quero aproveitar este momento para tranquilizar a minha querida companheira, a Patrícia, que está ali sentada e dizer-lhe o seguinte: Patrícia, por baixo destas longas saias continua a estar um homem de calças.
Quero falar ainda de Luis Bernardo Honwana, o meu padrinho. A palavra “padrinho” ganhou nos dias de hoje uma conotação deslustrosa e, a partir de agora, haverá mesmo, meu caro Luís Bernardo, quem te peça para dares um jeito e arranjes umas vestimentas para algum amigo carente de títulos. Quero dizer, no entanto, que, no teu caso, me reencontro plenamente naquilo que é a etimologia da palavra “padrinho” que é o guia e de norteador. Na verdade, há muito que o Luís Bernardo, sem o saber, vem cumprindo esse papel de modelo na minha actuação como escritor e como pessoa. É preciso repetir aqui o quanto nós, escritores moçambicanos, somos devedores a Luís Bernardo. O que ele nos deixou como legado é bem mais do que ele escreveu. É uma espécie de manifesto inaugural, uma instauração de caminhos que nós depois viemos a trilhar. Luís Bernardo Honwana, José Craveirinha, Noémia de Souza e o João Dias foram os primeiros 4 vértices dessa construção de vozes que, a um certo momento proclamaram: nós queremos escrever a história com a nossa própria caligrafia. Luís Bernardo, bem sei que és avesso a estes tratos: mas eu não posso deixar de expressar a minha infinita gratidão por seres quem és: uma figura tutelar e inspiradora na escrita, na vida e no pensamento.
Há aqui algo que devo ainda revelar: comecei a trabalhar como jornalista exatamente no mesmo jornal em que LBH se havia iniciado também como repórter. Esse jornal chamava-se a TRIBUNA. Aquele foi um tempo muito curioso porque havia um jogo de descobertas. Havia um jornalismo que andava à procura do seu próprio país; mas havia também um país que andava à busca de um jornalismo que fosse seu. E essa dupla procura pedia um jornalismo feito paredes meias com a literatura. Não foi por acaso que não apenas o Luís Bernardo mas José Craveirinha, Rui Knopfli, Carneiro Gonçalves e o Luis Carlos Patraquim foram todos eles jornalistas e escritores. Eu devo muito a essa gente, a esse ambiente de inconformismo que reinava na redação dos jornais. Recordo o primeiro dia que me apresentei na redacção e fui chamado por alguém que eu venerava como poeta e que era o Rui Knopfly. E ele perguntou: queres ser jornalista? E antes mesmo de eu responder ele passou-me uma folha de papel. Nessa folha estava reproduzida uma frase de um cantor norte americano chamado Frank Zappa. E a frase dizia o seguinte: “o jornalismo de hoje consiste em colocar jornalistas que não sabem escrever, entrevistando pessoas que não sabem falar, para pessoas que não sabem ler. ” Foi um bom começo de profissão.
Lembrou Luis Bernardo Honwana os meus pais. E estou grato por essa lembrança que faz justiça à história da minha família. Tudo o que sou vem daí, aquela é nascente do meu Tempo e do tempo dos filhos, dos netos e dos que vierem depois. O mundo em que nasci e me fiz homem alimentava-se do preconceito. Criava muralhas para separar e graduar as raças. As muralhas não ofendiam apenas os que ficavam do lado de lá. Os do lado de cá, convertiam-se eles mesmos em estereótipos. Éramos, de um e do outro lado, diminuídos pelo medo e pelo desconhecimento. Acreditamos que o efeito dos preconceitos raciais e tribais é o de tentar desvalorizar uma outra raça. E isso é verdade. Esses preconceitos resultam também numa outra pérfida consequência que é a negação da existência de pessoas singulares, cada uma com a sua identidade própria. Eis o que faz o racismo, o sexismo e o tribalismo: cada pessoa deixa de ser uma criatura única, passando a ter a identidade do seu grupo. Deixa-se de ter um rosto, uma voz, uma alma: passamos a ser identificados por um rótulo geral: os negros, os brancos, os matsuas, os macuas, os do Norte, os do Sul. Fala-se de alguém e há uma voz que diz: ah, já sei como ele é, conheço esses tipos.
Caros amigos
Irei falar sobre a erosão dos valores morais e de como pode um escritor ajudar na reabilitação do tecido moral da sociedade.
Escolhi este tema porque não conheço ninguém que não se lamente da perda de valores morais. Este é um assunto sobre o qual temos um imediato consenso nacional. Todos estão de acordo, mesmo os que nunca tiveram nenhum valor moral. E até os que tiram vantagem da imoralidade, até esses, depois de lucrarem com da ausência de regras, se queixam que é preciso travar a falta de decoro.
Um dos caminhos que nos pode ajudar a resgatar essa moral perdida pode ser o da literatura. Refiro-me à literatura como a arte de contar e escutar histórias. Falo por mim: as grandes lições de ética que aprendi vieram vestidas de histórias, de lendas, de fábulas. Não estou aqui a inventar coisa nenhuma. Este é o mecanismo mais eficiente e mais antigo de reprodução da moralidade. Em todos os continentes, em todas as gerações, os mais velhos inventaram narrativas para encantar os mais novos. E por via desse encantamento passavam não apenas sabedoria mas uma ideia de decoro, de decência, de respeito e de generosidade.
Há certa de trinta anos atrás Graça Machel – que era então Ministra da Educação – convocou um grupo de escritores para lhes dizer que estava preocupada. Estou preocupada, disse ela, estamos a ensinar nas escolas valores abstractos como o espírito revolucionário, do patriotismo, o internacionalismo. Mas não estamos a ensinar valores mais básicos como a amizade, a lealdade, a generosidade, o ser fiel e cumpridor da palavra, o ser solidário com os outros. E ela pediu-nos que escrevêssemos histórias que seriam publicadas nos livros de ensino. Graça Machel tinha a convicção que uma boa história, uma história sedutora, é mais eficiente do que qualquer texto doutrinário.
Eu queria ilustrar o poder das histórias com dois pequenos exemplos. Nestes próximos momentos partilharei convosco duas vivências e o modo como essas experiências produziram em mim duradouras lições.
O primeiro episódio – uma nação à procura de um hino
Ainda há pouco entoamos nesta sala o Hino Nacional. Este hino tem uma história e eu estou ligado a essa história. Aconteceu assim: no início da década de 80, Samora Machel decidiu que o Hino Nacional então vigente deveria ser mudado. Ele tinha razão: a letra era mais um louvor à própria Frelimo do que de uma exaltação da nação moçambicana. Estávamos ainda longe do multipartidarismo, mas Samora tomou essa decisão. E nessa maneira que era a sua, “requisitou” 4 poetas e 5 músicos e fechou-os numa moradia na Matola com a incumbência de produzirem não uma, mas várias propostas de hinos. Eu era um dos 4 poetas. Eram tempos de guerra, a única coisa que havia nas lojas eram prateleiras vazias. Todos os dias saímos de casa com uma única obsessão: o que trazer para comer para a nossa família. Pois, nessa altura, de repente, estávamos numa casa com piscina, rodeado de mordomias e servidos de comida e bebida. Confesso que nos primeiros dias ficamos de tal modo fascinados que pouco trabalhávamos. Quando, a meio da tarde, escutávamos as sirenes dos carros dos dirigentes nós corríamos para o piano e improvisávamos um ar de grandes cansaços. Ao fim da tarde, eu e os meus colegas entregávamos às nossas esposas que nos vinham visitar, recipientes com a comida que cada um de nós tinha poupado durante o dia. E foi assim que, ao fim de uma semana, produzimos uma meia dúzia de hinos que foram ensaiados por um grupo coral e apresentados a uma comissão avaliadora. Havia duas propostas que mereciam a nossa preferência: uma delas era esta que agora é o nosso hino nacional, a Pátria Amada. A outra era baseada numa composição do maestro Chemane e tinha um estribilho que dizia: “Pátria de heróis! Levanta a tua voz! Viva Moçambique, povo unido, A estrela do amanhã brilhará!” O grupo coral que apresentou esta proposta em vez de Pátria de Heróis cantava: “Pátria de arroz” e a proposta ficou esquecida.
O que sucedeu é que, por razão que desconheço, a iniciativa de Samora não teve seguimento. Samora morreu, o grupo de artistas foi desfeito e cada um de nós voltou para a bicha à espera do repolho e do carapau. E nunca mais nos lembramos do que havíamos feito.
Uma década depois, o novo parlamento pluripartidário procurava um novo hino nacional. E eu fiz parte de um grupo de trabalho criado pela Assembleia da República. Esse grupo juntava pessoas apontadas pelo Partido Frelimo e pela RENAMO. Devo dizer que trabalhamos de facto juntos, num ambiente de concórdia tal que nos esquecíamos de que representávamos duas forças rivais. Fizemos dois concursos públicos mas as propostas recebidas eram todas elas muito fracas. O falecido Albino Magaia publicou então um artigo relembrando os hinos que, dez anos antes, um grupo de artistas havia criado. E foi assim que se resgataram esses registos quando estávamos nos últimos dia de trabalhos da assembleia. Escolhemos o Patria Amada com algumas dúvidas. O que não havia dúvida, porém, era que se o hino não fosse aprovado naquele dia, ter-se-ia que esperar pela próxima sessão meses depois. E aquela era uma questão de enorme sensibilidade e urgência.
Pois nesses derradeiros momentos, os colegas da RENAMO colocaram objecções sobre algumas passagens da letra. Para dizer a verdade, a maior parte dessas objeções tinha sentido. porque alguns dos versos daquela letra eram realmente marcados pelo tempo de revolução. Já não se exaltava nenhuma força política. Mas falava-se de proletários, falava-se no Sol vermelho. Pedi ao grupo de trabalho uns minutos e, ali num quarto ao lado, alterei as passagens que suscitavam polémica. Foi ali que surgiu o “Sol de Junho”, por exemplo, para substituir o Sol Vermelho. E o hino foi aprovado pelo grupo e transferido para debate entre os deputados.
Curiosamente uma das passagens que suscitou mais objecções foi essa que diz “Nós juramos por ti Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar”. Alguns deputados achavam que aquilo não devia estar ali. Porque, segundo eles, nunca teríamos em Moçambique a ameaça de um tirano. Todos os países do mundo podem sofrer essa eventualidade. Nós, não. Não imagino como se pode sustentar essa certeza. Subsiste a ideia ingénua que nós, moçambicanos, estamos, por qualquer razão divina, acima dos comuns mortais. Mas nós somos humanos e existirão entre nós aqueles, que na ganância do mandar, já são tiranos antes mesmo de conquistarem o Poder. Ainda bem, caros amigos, que essa estrofe não foi retirada. Há muitos modos de ser tirano. Há vários modo de ser escravo. E é bom que o nosso hino nos encoraje a não aceitar nenhum forma de tirania ou de escravatura.
Segundo episódio – O não discurso de Samora
No Quarto Congresso da Frelimo, em 1983, fui designado como responsável do Gabinete de Imprensa. Nós, os jornalistas, ficávamos confinados a um compartimento envidraçado, numa espécie de aquário suspenso sobre a grande sala. Na altura, nós já produzíamos emissões de televisão para além, é claro, da rádio e dos jornais. Logo no inicio dos trabalhos, Samora Machel subiu ao pódio para usar da palavra. Trazia consigo o Relatório do Comité Central que era, à maneira dos partidos revolucionários, um documento volumoso. Assim que começou a ler, Samora teve uma breve hesitação, colocou os papéis na bancada e falou de improviso. Foi um improviso breve mas o que ele disse foi, para mim, mais importante e mais duradouro que o extenso relatório do Comité Central. Inclinado sobre o pódio, como se ganhasse a proximidade de uma confidencia, Samora convertei a solene Sala de Congressos num espaço com intimidade familiar. E falou do seu sentimento de estranheza ao ver-se como um ex-guerrilheiro agora rodeado de facilidades, cercado pelas obrigações protocolares e de segurança de um palácio presidencial. E disse mais, falou daquilo que ele chamou das “balas doces do inimigo”. Referia-se às formas mais subtis de sedução e de corrupção que, no seu entender, eram mais perversas que as verdadeiras balas. E ele interrogou-se se os seus companheiros estariam preparados realmente para esse embate, se estavam preparados para enfrentar as balas de açúcar. A sala estava suspensa naquela confidência. A rádio e a televisão transmitiam em direto aquele desabafo do Presidente. E escutavam-se não só as palavras mas os silêncios e a respiração inquieta do presidente. Naquele momento, um oficial do protocolo entrou na Gabinete de Imprensa e entregou-me um papel com uma instrução rabiscada que dizia: interrompam imediatamente a transmissão. Aquilo foi, para mim, um balde de água fria. Porque me parecia, como jornalista e como cidadão, que estava ali a acontecer tinha um alcance didático que não poderia ser recuperado se perdêssemos a transmissão. Mas havia naquele bilhete uma ordem que eu não tinha modo de refutar. Ocorreu-me uma pequena manobra de diversão. Eu queria apenas uns minutinhos adicionais. Quem sabe o Presidente não usasse mais que esses minutos? E escrevi o seguinte nas costas no bilhete: desculpe, não entendo bem a assinatura, não se importa de identificar melhor, afinal é o Presidente quem está falar…. Dobrei muito lentamente a folha e pedi ao mensageiro do protocolo que fosse de volta. Aquele vai e vem deu-me tempo para que o presidente terminasse o seu improviso em transmissão direta.
De toda a minha carreira de onze anos de jornalismo talvez tenha sido este o momento maior. Porque estava ali um dirigente de uma nação que se despia do seu estatuto infalível e partilhava não uma certeza, mas a confissão de uma insegurança, de um fragilidade. Estava ali não um líder revolucionário discursando em voz alta, mas um homem dobrado pela angústia e murmurando dúvidas sobre o quanto valera a pena toda a sua luta.
Durante um intervalo desse mesmo congresso tive a oportunidade de me sentar com um grupo de veteranos da luta de libertação nacional. E eles foram relatando como saíram clandestinamente do país para se juntarem à luta nacionalista. Alguns desses homens confessaram que o principal motivo da sua fuga não era a libertação da pátria. O que os movia a sair de Moçambique era poderem estudar. E quando, na Tanzania, receberam a notícia que, em vez de estudar, iriam combater esses militantes foram assaltados por dilacerantes dúvidas. Alguns pensaram em desertar e fugir dos campos de treino. Foi isto que confessaram. E eu pensei que havia mais coragem naquela confissão, do que em toda a sua arriscada odisseia. Aquelas pequenas histórias humanizavam a narrativa solene e oficial que apresenta a epopeia dos nacionalistas como um desfile de super-homens. Afinal, o ninguém nasceu herói. Ele cresceu, teve duvidas, sentiu medo. A bravura maior não está no modo como combateu aos outros. A grande coragem está no combate interior, esse que fazemos para nos superar a nós mesmos.
Falei-vos há pouco dessa proposta de hino chamada Pátria de heróis que foi entoada como Pátria de Arroz. Lembro-me que, na altura, até gostei do equívoco dos cantores, porque me vieram à memória as palavras de Albert Camus quando recordava a Argélia onde ele nasceu e dizia: “Pobre do país que precisa de heróis”.
Naquela altura achei que talvez fosse preferível uma pátria de arroz a uma pátria de heróis. A verdade é que a nossa epopeia nacional foi apropriada por um discurso vazio de exaltação patrioteira.
O resultado é que as nossas ruas e praças estão recheadas de nomes de heróis. A esses heróis, porém, falta-lhes rosto, falta-lhe voz, falta-lhes vida. Herdámos uma história heroica de heróis sem história. Só temos a História com H maiúsculo. Faltam-nos as pequenas histórias, falta-nos os pequenos episódios que seduzem a imaginação e sustentam a memória.
Caros amigos
Um dia destes, um jovem funcionário propôs-me o pagamento de um suborno para emitir um documento. Aquilo não correu bem porque ele, num certo momento, reconheceu-me e recuou nos seus propósitos.
Para se redimir o jovem explicou-se da seguinte maneira:
– Sabe, senhor Mia eu gostava muito de ser uma pessoa honesta, mas falta-me o patrocínio.
Não será exatamente o patrocínio que nos afasta da honestidade. O que nos falta é criar uma narrativa que prove que a honestidade vale a pena. Houve quem confundisse o combate contra a pobreza absoluta pelo combate pela ganância absoluta. Sugeriram-nos que a auto estima pode ser resolvida pela ostentação do luxo.
Uma certa narrativa quer ainda provar que vale a pena mentir, que vale a pena roubar, e que vale a pena tudo menos ser honesto e trabalhar. Aliás, a palavra “trabalho” suscita fortíssima alergias. Pode-se ter negócios, pode-se ter projetos. Mas ter um trabalho isso é que nunca. Que o trabalho leva muito tempo e, além disso, dá muito trabalho. Mas, no fundo, todos sabemos: enriquecer rápido e sem esforço só pode ser feito de uma maneira: roubando, vigarizando, corrompendo e sendo corrompido. Não existe, no mundo, inteiro, uma outra receita.
Preocupa-nos que os nossos estudantes entrem para universidade com fraco desempenho académico. Pois eu acho mais preocupante ainda que os nossos jovens cresçam sem referências morais. Estamos empenhados em assuntos como o empreendedorismo como se todos os nossos filhos estivessem destinados a serem empresários. Ocupamos em cursos de liderança como se a próxima geração fosse toda destinada a criar políticos e líderes. Não vejo muito interesse em preparar os nossos filhos em serem simplesmente boas pessoas, bons cidadãos do seu país, bons cidadãos do mundo.
Escrevi uma vez que a maior desgraça de um país pobre é que, em vez de produzir riqueza, vai produzindo ricos. Poderia hoje acrescentar que outro problema das nações pobres é que, em vez de produzirem conhecimento, produzem doutores (até eu agora já fui promovido..,) . Em vez de promover pesquisa, emitem diplomas. Outra desgraça de uma nação pobre é o modelo único de sucesso que vendem às novas gerações. E esse modelo está bem patente nos vídeo-clips que passam na nossa televisão: um jovem rico e de maus modos, rodeado de carros de luxo e de meninas fáceis, um jovem que pensa que é americano, um jovem que odeia os pobres porque eles lhes fazem lembrar a sua própria origem.
É preciso remar contra toda essa corrente. É preciso mostrar que vale a pena ser honesto. É preciso criar histórias em que o vencedor não é o mais poderoso. Histórias em que quem foi escolhido não foi o mais arrogante mas o mais tolerante, aquele que mais escuta os outros. Histórias em que o herói não é o lambe-botas, nem o chico-esperto. Talvez essa histórias sejam o tal patrocínio que faltou ao nosso jovem funcionário.
Tudo isto é urgente e imperioso. Porque nós estamos na eminência de desacreditar de nós mesmos. Todos nós já escutámos de alguém a seguinte desistência: não vale a pena, nós somos assim. Nós somos cabritos à espera de ser amarrados num qualquer pasto. Estamos a aprender a desqualificarmo-nos. Estamos a replicar o racismo que outros inventaram para nos despromover como um povo de qualidade moral inferior.
E vou terminar partilhando um episódio real que foi vivido por colegas meus. Depois da Independência, um programa de controlo dos caudais dos rios foi instalado em Moçambique. Formulários foram distribuídos pelas estações hidrológicas espalhadas pelo país. A guerra de desestabilização eclodiu e esse projeto, como tantos outros, foi interrompido por mais de uma dúzia de anos. Quando a Paz se reinstalou, em 1992, as autoridades relançaram esse programa acreditando que, em todo o lado, era necessário recomeçar do zero. Contudo, uma surpresa esperava a brigada que visitou uma isolada estação hidrométrica no interior da Zambézia. O velho guarda tinha-se mantido ativo e cumprira, com zelo diário, a sua missão durante todos aqueles anos. Esgotados os formulários, ele passou a usar as paredes da estação para registar, a carvão, os dados hidrológicos. No interior e exterior, as paredes estavam cobertas de anotações e a velha casa parecia um imenso livro de pedra. Ao receber a brigada o velho guarda estava à porta a estação, com orgulho de quem cumpriu dia após dia: acabou-se o papel, disse ele, mas o meus dedos não acabaram. Este é o meu livro. E apontou para a casa.
E esta é a história com que termino.
Por Mia Couto